A matemática faz sentido para as humanidades?
Para descrever, compreender e explicar as transformações sociais.
Muitas pessoas acreditam que as questões sociais não podem — ou não deveriam — ser analisadas com recursos matemáticos. O argumento mais comum é que a matemática pode ser útil para descrever processos naturais, mas não para compreender as ações humanas, que seriam demasiadamente complexas e subjetivas para serem reduzidas a números. Mas será que essa ideia realmente tem fundamento?
Um bloqueio mental que começa na formação escolar
Esse pensamento é reproduzido ao longo da formação acadêmica, começando antes mesmo da universidade, já no ensino médio, e acaba se cristalizando no que poderíamos chamar de ethos das humanidades. Ou seja, um conjunto de normas incorporadas por meio da socialização, que moldam a maneira como os indivíduos percebem, interpretam e atuam no campo acadêmico. No caso das humanidades e das ciências sociais, isso frequentemente se traduz na rejeição de qualquer aproximação com a matemática.
Esse ethos das humanidades implica não apenas em normas culturais internalizadas, mas também em disposições psicológicas que orientam tanto as práticas quanto as percepções dos indivíduos, influenciando a forma como o grupo se vê e como é visto por aqueles que estão fora dele. No caso das humanidades e das ciências sociais, a incorporação de elementos matemáticos, frequentemente, gera estranhamento, tanto entre os próprios membros dessas áreas quanto entre observadores externos. Isso ocorre porque há uma expectativa generalizada de que a matemática pertença ao ethos das ciências exatas e tecnológicas — como engenharia, física e computação — e não ao campo das ciências humanas e sociais.
Essa divisão reforçou uma dicotomia como a que vemos em nas expressões em inglês hard sciences e soft sciences, nas quais as humanidades e as ciências sociais são atribuídas ao segundo grupo. As soft sciences seriam caracterizadas por um consenso teórico menos consolidado, um rigor metodológico mais flexível, o uso limitado da matemática e, frequentemente, uma utilidade mais questionada ou debatida.
Dos Estados Unidos, veio a divisão que se reflete na estrutura das universidades por meio da sigla STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), em reação a qual as ciências sociais e humanas adotaram essa distinção, incorporando o ethos de um campo de conhecimento considerado, por definição, soft. Em resposta a essa categorização, essas áreas se posicionam como os campos do conhecimento crítico, reflexivo e criativo, destacando sua relevância na compreensão e transformação da sociedade.
Daí surgiu outro problema: cristalizou-se, principalmente nas ciências sociais, a ideia de que o raciocínio matemático é incompatível com o pensamento crítico. Aplicá-la à compreensão dos fenômenos sociais seria visto como um abandono da reflexividade, uma tentativa de reduzir mecanicamente a complexidade humana a regras fixas e deterministas. Qualquer esforço para incorporar a matemática às ciências humanas passou a ser desqualificado como positivista, tecnocrático, reducionista, mecanicista, a-histórico, acrítico e ingênuo. E essa crença se transforma em bloqueio à aplicação e ao desenvolvimento de métodos matemáticos na compreensão de fenômenos sociais, reforçando e justificando para gerações de estudantes que, para ser crítico, o melhor era manter-se bem longe das abordagens “meramente quantitativas”.
Matemática! Não tenho jeito para isso!
Essa resistência do ethos das humanidades à matemática também pode ser analisada a partir de um outro conceito da psicologia: o mindset. Esse ethos se manifesta na disposição psicológica de um mindset rígido, reforçado na educação escolar e no cotidiano da vida social, que leva muitos estudantes a acreditarem que habilidades matemáticas são inatas. Isso reforça a falsa ideia de que a formação em humanidades seria destinada apenas a quem não demonstra aptidão para a matemática, o que gera um sentimento de frustração em quem é levado a acreditar que não possui esse “superpoder natural” — o dom da capacidade matemática e, por consequência, da inteligência — que resulta em aversão e negação a qualquer coisa que se pareça com a utilização de números no raciocínio.
Matemática é apenas mais um conhecimento humano e, tal como qualquer outro, da filosofia à física, requer esforço individual para ser aprendido. Será aprendido mais facilmente se quem ensina sabe o conteúdo que ministra e conhece os meios para transmitir o conhecimento, o que parece que tem se perdido na formação docente nas últimas décadas.
Como conteúdo em si, matemática não é mais fácil, nem mais difícil. Possui especificidades da mesma forma que qualquer área do conhecimento. As pessoas não precisam ter talento especial nato para aprender matemática. Assim como as pessoas podem aprender música, línguas, artes, esportes, também podem — e deveriam — aprender matemática.
Sempre haverá pessoas hiper talentosas além da média para qualquer atividade na vida. Em qualquer área, indivíduos que se destacam, geram admiração por seus feitos e estimulam outras pessoas a quererem ir mais longe na área. O reconhecimento de que há grandes talentos em uma área, como na música, nas artes ou nos esportes, por exemplo, não faz com que uma pessoa que comece a aprender se sinta diminuída ou incapaz. Ao contrário. Serve de estímulo para que outras pessoas se interessem em seguir aquele caminho. Com a matemática ocorre o contrário.
As pessoas, naturalmente, possuírem talentos e preferências diferentes é o que contribui para a criatividade humana. No entanto, uma coisa é incentivar alguém a seguir um caminho alinhado com seu potencial de desenvolvimento, outra coisa, bem diferente, é desencorajar o uso de conhecimentos fundamentais, presumindo que a pessoa não seja capaz de aplicá-los competentemente em sua área de interesse. Por exemplo, há uma grande diferença entre incentivar uma pessoa com talento para a matemática a seguir se aprofundando em seus estudos nesse campo, em contraste com a afirmação de que somente pessoas excepcionalmente talentosas são capazes de aprender a usar matemática em qualquer área. Esse é um dos grandes problemas e obstáculos para o ensino de matemática, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, que se reflete nas avaliações comparativas internacionais.
Esse processo não é apenas imposto externamente, mas também internalizado pelos próprios alunos e professores. Muitos acabam introjetando a percepção equivocada de que escolheram as humanidades justamente para evitar lidar com a matemática, fazendo prevalecer o “pensamento crítico”. Em alguns casos, isso funciona como um mecanismo de defesa, uma forma de escapar da frustração gerada por anos de ensino básico em que não conseguiram aprender ou compreender adequadamente o conteúdo matemático.
Ouse saber!
Independentemente do caminho que escolhamos para analisar essa questão, é possível identificar que isso que estamos chamando de um ethos das humanidades, resultante da socialização escolar e acadêmica, resulta em um bloqueio mental. Esse bloqueio impede que a formação matemática seja reconhecida como um recurso útil e aplicável à pesquisa social e às ciências humanas, reforçando a percepção de que esses campos devem se manter afastados o máximo possível dos métodos quantitativos. Impede que as pessoas pensem sobre o assunto e que tenham curiosidade de se perguntar: será que a matemática faz sentido nas humanidades? Os livros e autores que refletem sobre essa questão são deixados em uma espécie de index proibitorum, uma lista de ideias proibidas para os métodos em ciências sociais e humanas. Quem ousou (e ainda ousa) espiar esses textos, o faz por conta própria, temendo a reprovação coletiva e deixar de ser reconhecido pelo ethos das humanidades.
É necessário reverter isso na formação acadêmica, bem como já na base da formação escolar. Quando uma criança perguntar por que deve aprender matemática, a resposta deve ser simples e direta: "porque é um direito seu"! Todas as pessoas devem ter acesso ao conhecimento humano acumulado ao longo do tempo. O saber é uma construção coletiva e contínua — ninguém descobre algo novo sem se apoiar no conhecimento daqueles que vieram antes. Da mesma forma, nenhuma inovação se torna verdadeiramente útil sem ser amplamente disseminada e apropriada pela sociedade, e isso inclui não só a matemática, mas a linguagem, química, biologia, história, geografia, artes, literatura, filosofia, sociologia e todas as disciplinas que compõem a base do conhecimento.
Se o conhecimento, como a matemática, tivesse sido restrito apenas a indivíduos excepcionalmente sábios — que, sim, existiram e devem ser reconhecidos por suas contribuições, mas que só chegaram onde chegaram porque se apoiaram no saber acumulado de muitas gerações, incluindo muitas pessoas anônimas —, ele não teria avançado ao nível que conhecemos hoje. Foi justamente por se tornar parte do cotidiano das pessoas com talentos diversos — das artes à construção, do comércio à filosofia —, que a matemática e a ciência puderam evoluir.
E se você se perguntar o que uma pessoa fará com o conhecimento adquirido na escola após formado, seja ele matemático ou de qualquer outra área, a resposta é também simples: sendo o conhecimento um direito, cabe a ele ou ela decidir como usá-lo — inclusive optar por não o usar. Mas essa escolha é muito diferente daquela imposta a quem nunca teve acesso ao conhecimento, seja porque não lhe foi ensinado, seja porque lhe disseram que aquele conteúdo não era para si.
Matemática já vem sendo incorporada na formação de ciências sociais e humanidades
Atualmente, diversos programas de pós-graduação e disciplinas complementares na graduação têm incorporado conteúdos modernos de estatística e ferramentas computacionais na formação em ciências sociais, economia, geografia, linguística e outras áreas. Esse avanço vai além das disciplinas isoladas e desconectadas de estatística que estavam presentes em alguns cursos de graduação já fa algum tempo.
Embora seja positivo que essas iniciativas estejam se consolidando, elas ainda são tratadas pela maioria das pessoas como um corpo estranho às humanidades, que deve se manter restritas a um subcampo específico em algumas disciplinas desse campo acadêmico. Persiste também a ideia de que se trata de um conhecimento altamente especializado e avançado, acessível apenas a algumas pessoas “vocacionadas”. Quando, na realidade, a matemática deveria estar integrada às humanidades já desde o ensino médio.
Pode parecer exagero, mas a matemática necessária para a interpretação de estatística, por exemplo, está no currículo que as crianças e adolescentes aprendem até o 9º ano do ensino básico. E não apenas a estatística — que é um campo fundamental da matemática, indispensável para a análise de dados —, mas também outros conhecimentos dessa área que podem enriquecer a compreensão dos fenômenos sociais.
O que precisamos, de fato, é que as humanidades rompam a barreira que desestimula o raciocínio matemático como ferramenta legítima na construção do conhecimento sobre os processos sociais e as relações humanas.
Questões que surgem quando da aplicação da matemática para as ciências sociais e humanidades
Quantitativo versus qualitativo?
Se a matemática for incorporada às ciências sociais e humanidades, como ficam os métodos qualitativos, históricos, etnográficos, documentais? Ampliar o horizonte das ciências humanas para incluir a matemática não significa substituir o saber já consolidado. O que se deve buscar é enriquecê-lo. Como parte do próprio conhecimento social coletivo, a matemática deve ser incluída para oferecer novas perspectivas para a compreensão dos fenômenos sociais.
Os métodos qualitativos e quantitativos não devem ser compreendidos como abordagens antagônicas ou excludentes, mas sim como perspectivas analíticas que, quando combinadas, oferecem uma compreensão mais ampla e aprofundada dos fenômenos sociais e culturais. Enquanto os métodos qualitativos permitem captar nuances, subjetividades e contextos históricos fundamentais para a interpretação dos processos sociais, os métodos quantitativos oferecem ferramentas para identificar padrões, mensurar tendências e testar relações causais com uma linguagem analítica apropriada.
A divisão entre métodos qualitativos e quantitativos consolidou-se, historicamente, a partir da chamada “batalha dos métodos”, no século XIX, iniciada na Alemanha e na França, sendo posteriormente propagada para outros países. Nesse período, com o avanço da estatística e das ciências naturais, surgiram debates sobre a melhor abordagem para o estudo dos fenômenos sociais. De um lado, havia aqueles que defendiam a adoção de métodos inspirados nas ciências exatas, enfatizando a necessidade do que entendiam ser medições objetivas e da identificação de regularidades nos comportamentos humanos. De outro, estavam os pensadores que argumentavam que a complexidade da vida social exigia abordagens interpretativas, voltadas para a compreensão das intenções, significados e contextos históricos. Esse embate marcou a consolidação das ciências sociais, história, economia e vários outros campos das ciências humanas, delineando a oposição entre perspectivas quantitativas e qualitativas.
No século XX, a polêmica dos métodos ganhou novo fôlego, especialmente com o crescimento da pesquisa quantitativa nos Estados Unidos. O avanço das técnicas estatísticas e da modelagem matemática, impulsionado por avanços computacionais e pelo financiamento de pesquisas aplicadas, reforçou a presença da quantificação nas ciências sociais. Esse movimento, no entanto, não ocorreu sem resistência. Diversos autores, particularmente na tradição europeia, criticaram o que consideravam um domínio excessivo da abordagem quantitativa, alegando que ela reduzia a complexidade da vida social a números e correlações descontextualizadas. Para esses críticos, a ênfase em modelos estatísticos privilegiava uma visão positivista e tecnocrática da realidade, limitando a capacidade das ciências sociais de interpretar as dinâmicas culturais, históricas e subjetivas da sociedade.
Entretanto, a partir dos anos 1990, com o avanço da computação e a expansão das metodologias digitais, tornou-se cada vez mais evidente que a separação rígida entre métodos qualitativos e quantitativos era, em grande medida, artificial. Ferramentas computacionais passaram a ser utilizadas tanto para análise estatística quanto para a exploração de textos, imagens e redes sociais, mostrando que o pensamento quantitativo e qualitativo podiam convergir na prática da pesquisa. Além disso, estudiosos começaram a reconhecer que essa divisão refletia não apenas questões metodológicas, mas também disputas políticas e ideológicas dentro do campo acadêmico. Em muitos casos, a polarização entre métodos não resultava de uma real incompatibilidade epistemológica, mas sim de rivalidades institucionais, das disputas entre diferentes filiações partidárias e da luta por prestígio e financiamento.
No cenário atual, curiosamente, ao mesmo tempo em que aumentou a rigidez ideológica em alguns setores, em outros, talvez pela própria fadiga de décadas de polarização estéril, tem crescido o reconhecimento de que métodos qualitativos e quantitativos não são trincheiras em campos opostos de uma batalha, mas ferramentas que se somam na busca por uma compreensão mais completa da realidade social. A integração dessas abordagens permite responder a perguntas mais amplas e complexas. A superação da dicotomia rígida entre qualitativo e quantitativo não implica a anulação das especificidades de cada método, mas sim o reconhecimento de que diferentes formas de investigação podem se complementar, enriquecendo a produção do conhecimento e sua aplicação às questões do mundo real.
Essa complementaridade já se manifesta em diversas áreas das ciências sociais e humanidades. E tem sido um movimento que demonstra que não existe uma hierarquização epistemológica, onde um método se sobrepõe ao outro. Assim, a incorporação de métodos quantitativos às ciências humanas não deve ser vista como uma ameaça ao ethos dessas disciplinas, mas sim como uma ampliação das possibilidades investigativas, permitindo novas formas de interpretação e diálogo interdisciplinar.
Como matemática pode explicar a sociedade e as ações humanas?
Vamos admitir que a negação e o bloqueio à matemática tenham sido superados e haja um genuíno interesse das pessoas em ciências sociais e humanas em aprender e usar os recursos quantitativos para estudar os processos sociais. Aqui emerge uma questão metodológica muito comum: como números, fórmulas e equações poderiam explicar algo tão complexo quanto cultura, a diversidade, o comportamento humano ou políticas públicas? Muita gente acredita que a natureza pode ser explicada por equações, mas não as ações humanas. Ao usar a matemática, não estaríamos reduzindo a criatividade e imprevisibilidade da ação humana a um procedimento mecanicista, desprovido de vida e intensidade?
Vamos nos aprofundar sobre essa questão no próximo texto. Mas já fica um ponto para adiantarmos a reflexão: matemática não é só aritmética e números. A matemática é também uma linguagem de representação do raciocínio.
Diante da complexidade do mundo, da abundância de dados e da velocidade das transformações sociais, as ciências sociais e humanas precisam de um novo ethos. É fundamental superar debates que, embora ricos, pertencem ao século XIX e à primeira metade do século XX, situando-os em seu devido contexto histórico. Isso não significa esquecer ou negar os fundamentos que moldaram as humanidades como disciplinas acadêmicas, mas sim aprender com o passado para seguir adiante.
Certamente, é preciso apoiar-se nos ombros dos gigantes para enxergar mais longe e avançar. Mas, a mera admiração pelos grandes pensadores do passado não será suficiente para compreender as mudanças sociais que se desenrolam diante de nós. Nosso tempo é outro, nossos desafios são distintos e exigem ferramentas adequadas para ampliar a capacidade de interpretação dos dados gerados continuamente nos mais diversos meios. A matemática e as ferramentas computacionais devem integrar esse novo ethos, essencial para que a pesquisa social possa oferecer explicações demonstráveis sobre os diferentes aspectos da vida humana e das mudanças em curso.
O que você pensa sobre isso?
Como citar esse texto:
BALTAR, Ronaldo; BALTAR, Claudia Siqueira. A matemática faz sentido para as humanidades? 27 de mar. 2025. Análise Quantitativa das Mudanças Sociais. [Substack newsletter]. Disponível em: https://aqms.substack.com/p/a-matematica-faz-sentido-as-humanidades.
DOI: 10.59350/4zna2-tfn36






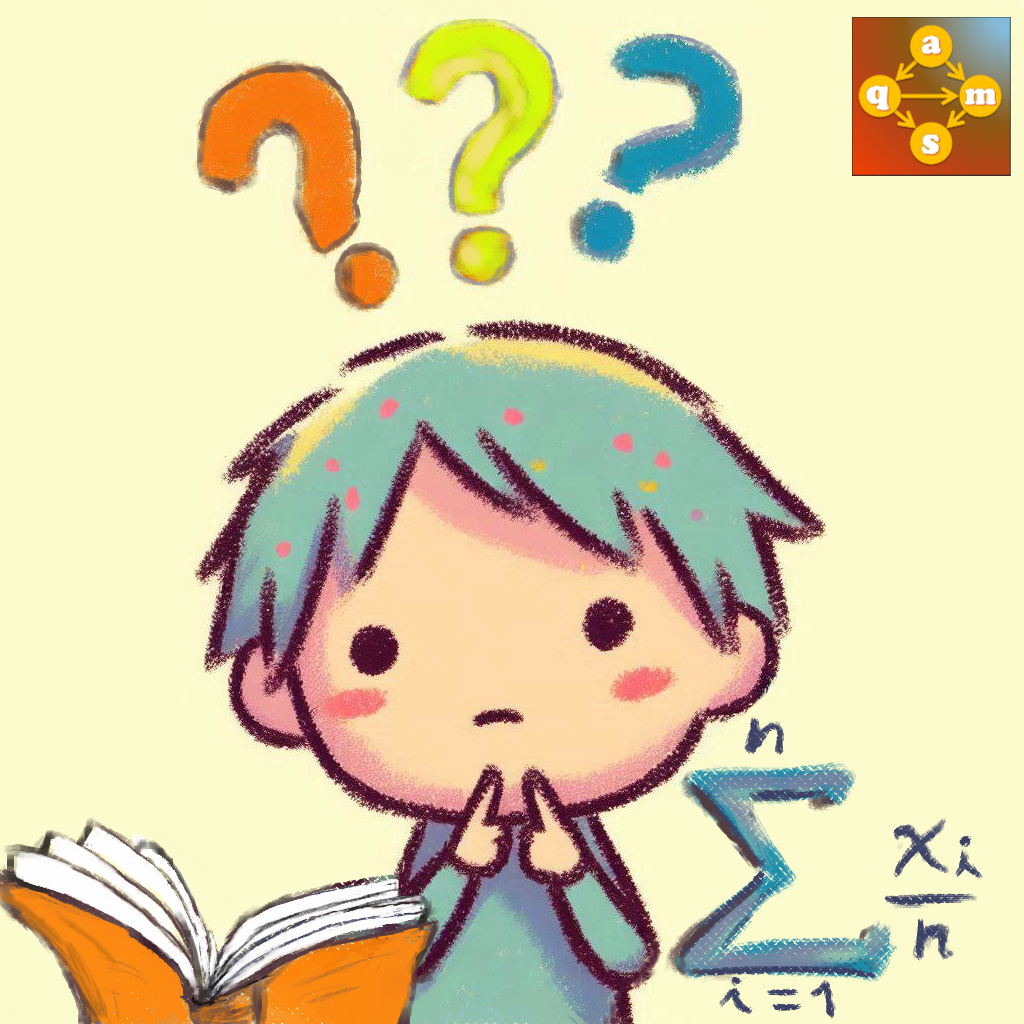
Endossando as palavras do Victor: excelente texto, professores!
Confesso que eu mesma, como estudante de Ciências Sociais, também compartilhei desse pensamento — até começar a atuar na área de Monitoramento & Avaliação. Hoje, utilizo uma ampla gama de métodos quantitativos e qualitativos na avaliação e na construção de sistemas de M&A. Além disso, as avaliações de impacto econométricas, como as realizadas pelo J-PAL, têm se mostrado excelentes fontes de evidências para a formulação de políticas públicas e programas voltados ao combate à pobreza.
Excelente texto, professores. Obrigado!
É uma pena que, de fato, tenhamos tantos déficits no ensino de matemática ao longo da trajetória dos alunos no colégio. No caso do estudante médio de ciências humanas, a situação parece piorar, me parece, ao longo do ensino superior, uma vez que não é difícil se deparar com grades curriculares (seja em graduações em ciências sociais, sociologia, antropologia, entre outras) que praticamente negligenciam as disciplinas de metodologia, reservando a elas apenas um ou dois semestres. Quando isso acontece, dificilmente o aluno encontra uma situação de real contato com as possibilidades criativas da mobilização de métodos quantitativos nas ciências humanas. E isso por vários motivos - incluindo aí a (ainda) baixa quantidade de professores especializados em tais métodos nos departamentos de nossos cursos de humanas.
Enfim, muita coisa a ser explorada! Só o fato de termos acesso fácil a um conteúdo hoje como o AQMS já mostra que as coisas estão mudando aos pouquinhos.