Onde eu acho os dados que comprovam a minha teoria?
Teoria só se faz com dados em um processo contínuo de reflexão
Ao longo da minha trajetória como professor, orientador e pesquisador, mas também atuando com equipes profissionais na avaliação de impacto social de empresas e no monitoramento de políticas públicas, uma situação recorrente que frequentemente presenciei era alguém se aproximar e perguntar:
– Professor, já tenho minha tese (explicação) pronta. Você sabe onde posso encontrar alguns dados que confirmem minha conclusão? Só falta isso! A parte teórica eu já fiz, agora só preciso de uns "dadinhos" para concluir meu trabalho (relatório, tese ou artigo)!
Parece piada, mas não é, incluindo os “dadinhos”, que ouvi inúmeras vezes. Esse parece ser o padrão que está voltando a se tornar predominante na formação acadêmica: primeiro vêm as ideias sobre o mundo, e depois (se necessário for) alguns fragmentos da realidade subjugados a conclusões preconcebidas. O incrível é que esse tipo de comportamento tem um status elevado aos olhos da comunidade acadêmica, já que tudo o que está associado ao termo “teórico” é frequentemente mais prestigiado do que o que se identifica como “empírico”. Essa não é uma particularidade das ciências sociais; vale também para outras áreas do conhecimento. Mas vamos nos focar na pesquisa social.
No passado, provavelmente por herança da escolástica e da elegância afetada dos salões aristocráticos, quanto mais abstrato e menos inteligível fosse o raciocínio e o vocabulário de alguém, mais frequentemente isso era considerado um sinal de inteligência, sofisticação e refinamento. Hoje, em tempos de lacração, likes e reels, observamos quase o oposto: quanto mais simplista, provocativa e desconectada da realidade for uma ideia, maiores são as chances de seu autor ser elevado ao status de ícone, celebrado como um "teórico" do anti-intelectualismo e autoproclamado crítico do establishment, mesmo que careça de qualquer base sólida para sustentar suas opiniões.
Nesse sentido, entre afetados e simplistas, podemos dizer, grosso modo, que há dois tipos de “teóricos”: os “teóricos de referência” e os “intérpretes”. Os que são tratados como “teóricos de referência” cunham termos, clichês e jargões que passam a ser tratados como representações substitutivas da realidade. Já os “intérpretes” são discípulos que reproduzem, às vezes adicionando suas próprias observações, e exaltam os “teóricos de referência”. Além disso, são os intérpretes que assumem o papel de críticos mais ácidos, defendendo seus ícones e atacando outros críticos em nome deles.
Os "conceitos", quando tratados dessa forma, tornam-se autodefinidos e autoexplicativos, funcionando como pretensos axiomas de uma "teoria" abstrata, quase sempre tão desconectada da realidade quanto um texto pós-moderno. Não se submetem a fatos ou evidências, mas permanecem como explicações fechadas em si mesmas. Não é raro encontrar teses e trabalhos que, ao tentar responder a uma questão como o baixo desempenho escolar no Brasil, por exemplo, apresentam um único "conceito" como resposta: para alguns, o problema é o "neoliberalismo". Em oposição, outro "clã" responde com outro "conceito": o culpado é o "marxismo cultural".
Muitas pessoas que efetivamente contribuíram para a formação de uma cultura de pesquisa efetiva nas Universidades, em todo o mundo, criticaram essa dicotomia entre conhecimento teórico vago e explicação empírica. Apenas para pensarmos na área da pesquisa social, temos Wright Mills1, nos Estados Unidos, com sua crítica ao que denominava de “grande teoria” e “empirismo abstrato”, o francês Bourdieu, que propunha uma “teoria em atos”2, bem como Florestan Fernandes, que apresentou argumentos similares em a Fundamentos empíricos da explicação sociológica3.
Mas, as lições desses autores têm se tornado esquecidas. Contraditoriamente, diante da maior facilidade de acesso à dados e informações, cada vez mais se torna comum as pessoas se fixarem em ideias prontas e argumentos de autoridade, usando dados apenas como ilustração de argumentos prontos. Mas não há dado pronto que comprove uma generalização pré-concebida. A realidade, sobretudo no campo da pesquisa social, é dinâmica e complexa. Uma pesquisa séria requer um diálogo constante entre postulados teóricos e os dados observados da realidade. O conhecimento é uma construção permanente, não uma revelação de princípios.
Poderíamos reescrever a famosa citação, atribuída4 ao psicólogo William James, que afirma: "Muitas pessoas acreditam que estão pensando quando, na verdade, estão apenas reorganizando seus preconceitos", da seguinte forma: "Muitas pessoas pensam que estão fazendo pesquisa com dados quando, na verdade, estão apenas reforçando seus próprios vieses".
Nesse cenário, como resolver o problema? Um caminho possível é a adoção de metodologias que ajudem a conectar explicitamente teoria e evidências de maneira clara e prática5. Ferramentas como os Diagramas Causais Acíclicos (DAGs) e os Modelos Causais oferecem um meio estruturado de representar o conhecimento, identificar vieses e validar explicações com base em dados concretos. Essas ferramentas estão sendo cada vez mais utilizadas, não só no âmbito das ciências sociais quantitativas, mas por todas as áreas, incluindo estudos qualitativos, que trabalham de alguma forma com análise de impacto social, permitindo aos pesquisadores explicitar e testar modelos teóricos de forma prática. Tem ainda a vantagem de ser um recurso bastante útil na reprodutibilidade das pesquisas, requisito atualmente primordial em qualquer estudo que procure seriedade em suas conclusões.
Os DAGs e os Modelos Causais não apenas auxiliam na representação gráfica de relações complexas, mas também ajudam a superar a fragmentação de proposições opostas. Além disso, possibilitam uma abordagem mais científica — ou seja, verificável — das questões sociais, permitindo a inferência causal aplicada a problemas concretos, como a avaliação de políticas públicas.
Essa abordagem, aliada a recursos computacionais, como o uso de R na construção de modelos causais, tem ajudado a colocar em um outro patamar o modo como teorias são desenvolvidas e testadas em estudos sobre questões sociais. A integração entre teoria e dados com base em padrões observáveis, permite produzir modelos explicativos que dialoguem com a realidade e contribuam efetivamente para o entendimento, planejamento e monitoramento de ações sociais. Em vez de disputar e confrontar “conceitos” isolados, a meta da pesquisa passa a ser a construção de conhecimento aplicado, útil e conectado à realidade concreta.
Compreender e explicar é muito mais do que nomear algo. Como disse Tom Jobim em uma entrevista à BBC em 1986, ao abordar a polêmica sobre se a Bossa Nova seria um samba com influências do jazz ou um jazz com influências da música brasileira:
"Eu não sou contra nenhum tipo de música. Porque também as pessoas querem sempre dar nome às coisas. E dar nome às coisas prejudica a compreensão. Você chama Maria de Maria e pensa que conhece Maria, mas Maria é só um nome. Você não conhece Maria."
A mudança necessária requer métodos e conhecimento técnico, mas vai além disso; ela demanda uma transformação maior na mentalidade e no ambiente cultural que permeiam a prática científica sobre temas sociais. É preciso romper com a lógica que supervaloriza abstrações desconectadas da realidade e adotar práticas mais alinhadas às demandas concretas dos processos de transformação do mundo real. Essa mudança, no sentido do habitus de Pierre Bourdieu, pode abrir caminho para uma pesquisa mais engajada — não como uma redução à chavões ideológicos, mas comprometida de fato com o entendimento dos desafios complexos do mundo contemporâneo. O valor da pesquisa deve estar fundamentado, não na retórica dos princípios ou no proselitismo, mas na capacidade de integrar teoria e prática, gerando explicações sólidas e orientando ações que efetivamente impactem a vida cotidiana das pessoas.
No próximo post, vamos detalhar mais a importância de ferramentas de representação do conhecimento para aliar teoria e análise de dados. Vamos ver como os Modelos Causais podem auxiliar nessa tarefa.
Se você ainda não faz parte da Newsletter Análise Quantitativa da Mudança Social - AQMS e quiser receber a sequência de textos, só se inscrever no botão abaixo:
📙Leia também:
MILLS, C. Wright. A Imaginação Sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1959.
BOURDIEU, Pierre. Esboço de uma teoria da prática. Editora Celta, 2002.
FERNANDES, Florestan. Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica. São Paulo: Editora Nacional, 1972.
A frase parece ter sido proferida em 1906 por um bispo metodista de Boston, nos Estados Unidos, talvez William F. Oldham, que parece ter afirmado em uma de suas preleções que algumas pessoas "pensam que estão pensando quando, na verdade, estão apenas reorganizando seus preconceitos". Algumas décadas depois, o texto foi atribuído posteriormente à William James, mas a passagem mais próxima em seus textos é, em tradução livre, algo como “Nosso pensamento, assim, cresce em pontos; e, como manchas de gordura, esses pontos se espalham. Mas deixamos que se espalhem o mínimo possível: mantemos inalterado o máximo possível de nosso antigo conhecimento, tantos de nossos velhos preconceitos e crenças quanto podemos. Remendamos e mexemos mais do que renovamos. A novidade penetra; mancha a massa antiga; mas também é tingida por aquilo que a absorve “. Ao longo dos anos, a frase apareceu em vários periódicos dos Estados Unidos e foi atribuída a outros diferentes autores (cf. Quote Investigator).



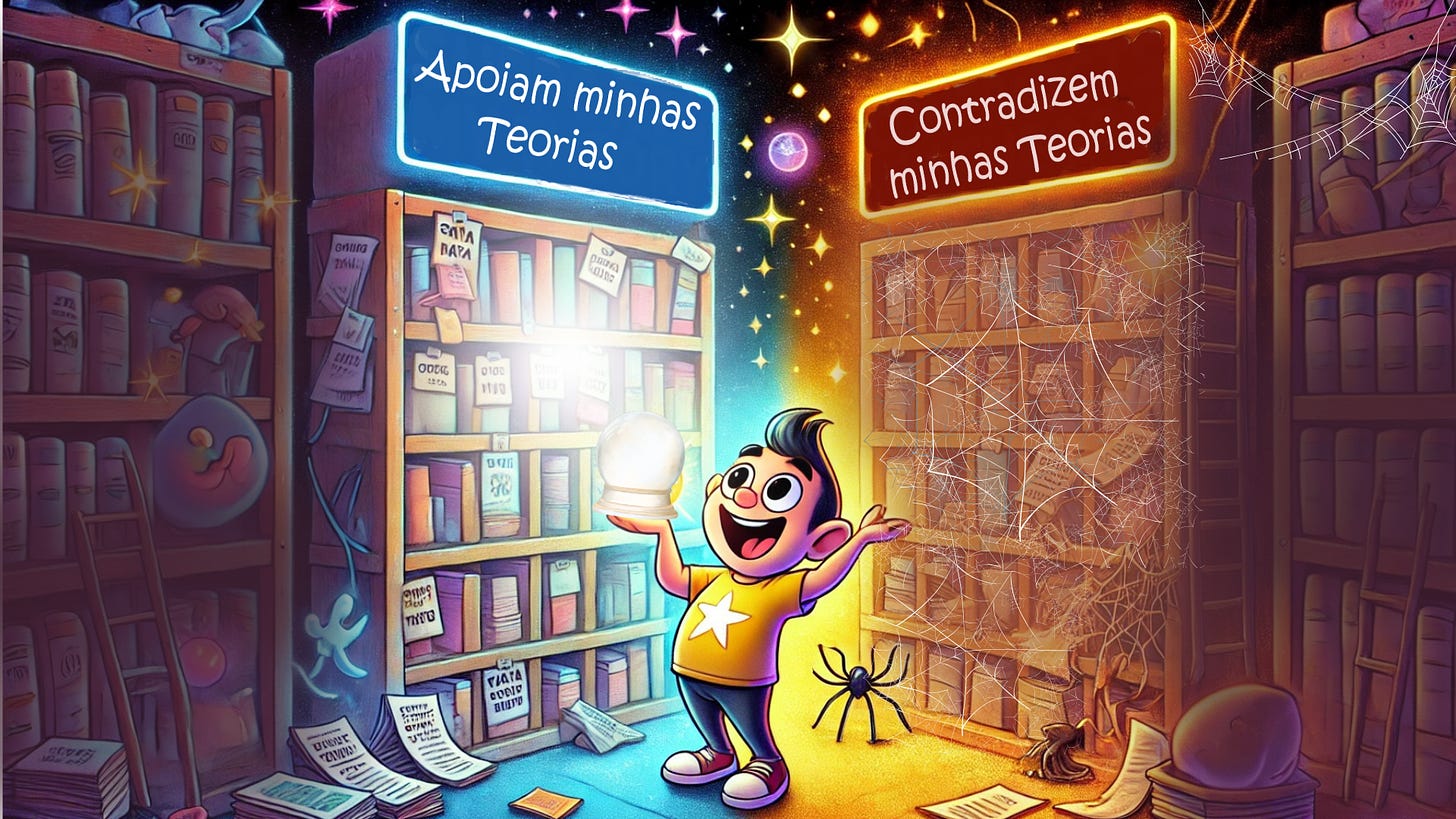
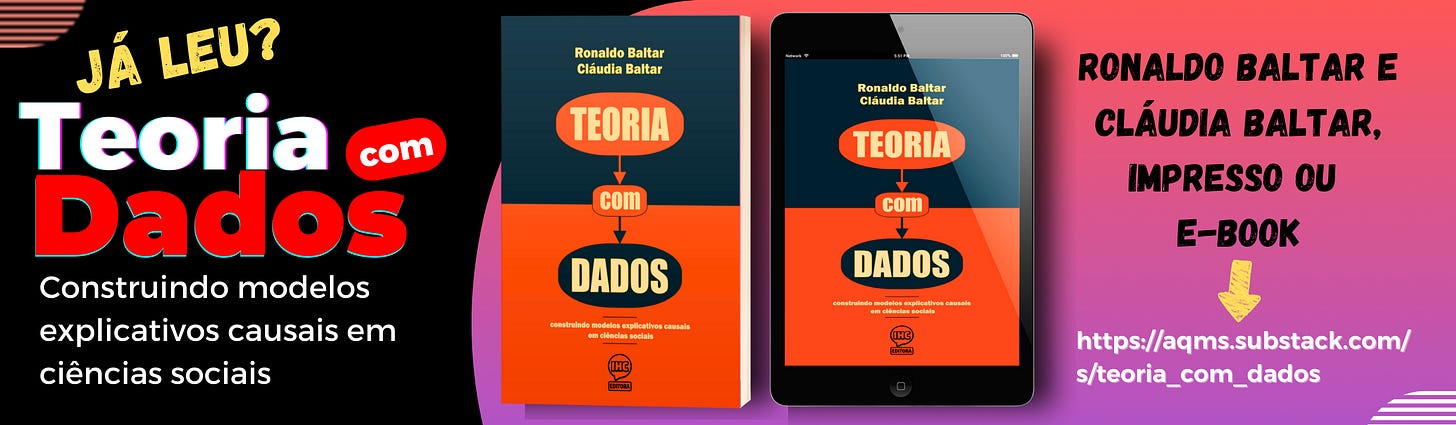
Brilhante texto. Sigo nesta linha também. Parabéns.
Parabéns, Ronaldo!! Importante reflexão d se obre teoria e prática. Traduziu o q penso sobre produção do conhecimento